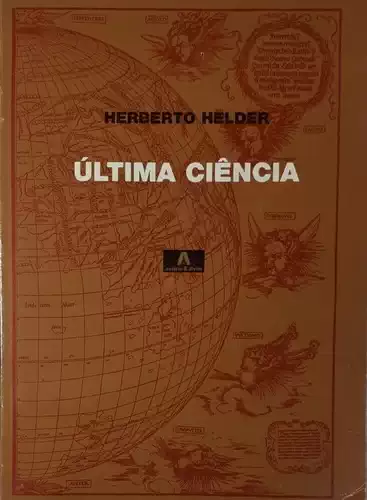Poemas nesta obra
1A
de morte. O perfume a sangue à volta da camisa
fria, a boca cheia de ar, a memória
ecoando com as vozes
de agora. Onde está sentada brilha de tantas
moléculas
vivas, tanto hidrogénio, tanta seda escorregadia dos ombros
para baixo. Toca em
de onde rompe a rosa. Uma criança
luciferina. A mãe fechava,
abria em torno a torrente dos átomos
sobre a cara. Aquilo que a estrangula dos pulmões
à garganta
é a rosa infundida. Leva um braço às costas,
suando, raiando
pelo sono fora. Está queimada onde lhe toca. Falaria alto
se o peso a enterrasse à altura das vozes.
Via a matéria radiosa de que é feito o mundo.
A língua doce de leite,
a mão direita na massa agre, o sexo banhado
no manancial secreto.
O dom que transtorna a criança ardente é leve como
a respiração, leve como
a agonia.
Uma rosa no fundo da cabeça.
1B
o cordão astral à criança aldebarã, não cortem
o sangue, o ouro. A raiz da floração
coalhada com o laço
no centro das madeiras
negras. A criança do retrato
revelada lenta às luzes de quando
se dorme. Como já pensa, como tem unhas de mármore.
Não talhem a placenta por onde o fôlego
do mundo lhe ascende à cabeça.
Aveia que a liga à morte.
Não lhe arranquem o bloco de água abraçada aonde chega
braço abraço. Sufoca.
Mas não desatem o abraço louco.
Move a terra quando se move.
Não limpem o sal na boca. Esse objecto asteróide,
não o removam.
A árvore de alabastro que as ribeiras
frisam, deixem-na rasgar-se:
— Das entranhas, entre duas crianças, a que era viva
e a criança do sopro, suba
tanta opulência. O trabalho confuso:
que seja brilhante a púrpura.
Fieiras de enxofre, ramais de quartzo, flúor agreste nas bolsas
pulmonares. Deixem que se espalhem as redes
da respiração desde o caos materno ao sonho da criança
exacerbada,
única.
1C
da água, esmeraldas
exasperadas, as púrpuras. E entra na clareira. Passa,
toda. Está coberta de pólen.
A convulsão de uma jóia quando roda
abruptamente acesa. A cicatriz no tórax é uma
arborescência
a sangue e ouro. Nela se embebedam os enxames das imagens
estelares, vermelhas,
extremas.
Os favos no escuro enlouquecem a infância.
Nas suas casas profundas Deus aguarda que se demonstre
o teorema perfeito
e terrível.
1D
água. Profundamente: — a água estancada no ar.
Uma estrela materna.
E estou aqui devorado pelo meu soluço,
leve da minha cara.
O copo feito de estrela. A água com tanta força
no copo. Tenho as unhas negras.
Agarro nesse copo, bebo por essa estrela.
Sou inocente, vago, fremente, potente,
tumefacto.
A iluminação que a água parada faz em mim
das mãos à boca.
Entro nos sítios amplos.
— O poder de reluzir em mim um alimento
ignoto; a cara
se a roça a mão sombria, acima
da camisa inchada pelo sangue,
abaixo do cabelo enxuto à lua. Engoli
água. A mãe e a criança demoníaca
estavam sentadas na pedra vermelha.
Engoli
água profunda.
1E
potentes, fechados,
pulsando,
suspensas pela alumiação que as toma braço a braço;
que têm a despontar nas costas
um astro de basalto do seu tamanho.
Refulgem pela boca, ouvem as vozes.
Devoraram um alimento ardente.
Dormem.
Só é preciso pensá-las, vê-las, pô-las
à mesa com as mãos sobre a toalha, entre facas,
louça, carne
tóxica. Ou soprá-las para que divaguem numa força de ar.
Transmutavam-se.
Que transparência no sono, que ciência.
Alguém as encontrou, não falam, queimam-nas
o combustível astral, a nutrição
violenta. A sua arte monstruosa
é a atenção nos dedos:
separar pelas fendas os planetas,
torso mais torso, membros altos, o cérebro selado de todos
os mortos. Mostram
isto: que a arte que dá a vida
mata.
Ininterruptas. Assombrosas. Contempladas.
1F
com ar e ouro.
Correm como se movessem água.
Que inspiração e obra nos laboratórios do mundo.
Todas metidas no vento.
Tão leves que metem medo.
E esplendem os ramais da água apoiada à noite,
esplendem, invadem
a casa. E as crianças pensam de sala para sala envoltas nela.
Até que as embebeda o sono
encharcado nessa água
poderosa. E então a água fica de olhos fechados,
negra negra
negra.
1G
pelas paisagens, crispada através
dos diamantes.
Em cada sítio há uma árvore de diamantes, uma constelação
na fornalha. Abaixa-te,
vara alta, que essa criança de cabeça habituada aos meteoros
delira, põe-te os dedos,
deita um braço de fora, serve
de estrela. Por acto
de sumptuosidade. Há uma palavra com uma rosa
reluzente. Poros frios, nós de bronze:
a madeira está cheia
de respiração. Apedra arrancada ao mundo está cheia
de respiração. E as luas secam pedra
e madeira. E uma imagem da atenção de tudo.
Quando alguém escreve, arde o papel por onde
passa a imagem. E na criança assim escrita dentro
de um saco radioso, a noite contempla-se
a si própria. Trabalha-se nas partes
doces e ocultas
da morte, engrandecendo a mão voltaica
que a escreve em nome — essa última ciência:
unânime,
fundamental,
2A
as luas encaminham-nos às águas que os afogam
até aos ombros.
Vejo-os nas florestas das salas pelas portas abertas
para outros
espaços de água. Inspira-os um ritmo de iluminação
ou floração, um
deslumbramento. Nos abismos do estio.
São assombrosos nos olhos como se movem os diamantes.
Bárbaros símbolos da caça, a vida
extraordinária, um arco-íris dobrado entre os braços.
Essa loucura da infância a cambalear defronte
de uma cor direita, ou de um frio acto
de água tombando,
ou de uma jóia alerta contra os alvéolos da carne.
O terror estelar de uma inocência que bebesse transparentemente
por um copo
alto.
2B
entre floras altas: camélias de ar
espancado, as labaredas dos aloés erguidas
de uma carne difícil.
A beleza que devora a visão alimenta-se da desordem.
O espaço brilha dela, sussurra quando passa por uma imagem
tão leve que não suporta o peso
brusco
do sangue — as veias da garganta contra a boca.
2C
do lado reluzente das laranjeiras.
E crepitam-me as pontas dos dedos ao supor-te no escuro.
Queimavas-me junto às unhas.
E a queimadura subia por antebraço e braço
ao coração sacudido. Eu — perfumado
e queimado por dentro: um laço feito de odor
transposto, ar fosforescendo, uma árvore
banhada
nocturnamente. Tudo em mim trazido
súbito
para o meio. Quando este saco de sangue rodava
defronte da abertura
prodigiosa.
2D
de lua — os delírios da fêmea
e da sibila.
Fechada ao tacto, e por dentro devorada
pelo clarão dos centros.
As épocas extremas de glicínias em luz
pendida, uma colina
ao meio inebriado de maio, um quarto brilhando
no interior da casa.
E morres e ressuscitas e transmudas-te
em matéria
radial de escrita. Enquanto corres profundamente e procuras
onde és visível. Unida, preciosa
— de porcelana, mogno, seda.
Ao serviço de uma urgência na escola da palavra.
Uma desarrumação nova nos elementos da púrpura.
Quando os meus dedos te fazem num mistério de baptismo.
Que abala a terra a toda a atmosfera
inaugural, que abre e encharca e ilumina
— como se fosse
respiração e sangue e potência
planetária: criaturas, objectos,
as ordens nominais que os arrancam dos limbos.
Quando se tornam translúcidos na fornalha.
Quando com tanta luz se tornam
ocultos.
2E
A mão que dolorosamente extraíra
rosas de mármore
dos sítios difíceis. Essa mão agora
nos trabalhos da alma: o flanco acordado, o abismo
da palavra. Resplandecia.
Levantava a pálpebra de jóia instantânea.
Das brancas ramas desentranha a corola
compacta, intrínseca, propagada
na árvore. Flanco e mão. E o nome que os ilumina
arboreamente.
2F
diante, a sombria habilidade de bombear o sangue de um vaso
para outro vaso. Dulcíssimo
leite, plasma
agre, a jóia galvanizada
mão a mão.
“Quando eu morrer.” Porém.
Na linha escrita subira um planeta exorbitante.
Se eu agora morrer, quem te chamará à roupa
que humanamente levantavas
entre asteróides, ó carne
habitante de um nome? Porém ficaste, sucessiva
meteorologia,
pressão tão alta têmpora a têmpora:
às vezes enlouqueço da palavra que a tudo deste.
Há dias poderosos de uma presença total.
Toco-te a mão que assombra a minha
mão. — E a cara, tão lírica,
aterradora, frente
a frente, cercada pela tensão lunar.
Vejo-a crispar-se com a minha imagem
inserida. E escrevo:
“Quando eu morrer.” — erguendo esse espelho
em tamanho de espuma.
Como se fosse a beleza, a transfusão amarga,
o sopro boca a boca.
2G
saía a arder.
Aparecia em chaga de corpo inteiro.
Era agora uma estrela carbonizada, uma aterradora estrela
de grandeza principal,
quando se olhava da terra.
3A
Com o rosto molhado,
eu posso ficar com o rosto molhado,
com os olhos grandes.
Neste lugar absoluto pelo sopro,
fervem as víboras de ouro aos nós
sobre as pedras enterradas. Leopardos
lambem-me as mãos giratórias.
E eu abro a pedra para ver a água estremecendo.
A água embebeda-me.
Como nos corredores de uma casa brilha o ar,
brilha como entre os dedos.
—A minha vida é incalculável.
3B
como pretexto para luzirem
cortejos: animais, bárbaros crânios de ouro;
um branco suspiro extenua as gargantas dos áruns;
pálpebras no granito despedem-se do mundo. Quando
começam os sítios
íngremes. Porque a treva aproveita
a madurez para onde
se debruça a paisagem. E fique a púrpura
nos dedos, só
por deslizarem. O objecto ao meio é o vaso
em que trabalham. A noite coloca um degrau,
até que do invisível
— reservatórios de linfa e gás entenebreçam.
Os longos mesteres da argila: órgão macio e baixo.
O espasmo que o faz rodar, a beleza
que o transforma num crânio
astral: — Vaso
dolorosamente fechado sobre a fulguração da massa
de átomos. Embriaga-se à volta
do buraco exasperado. O papel redemoinhando às lunações
das unhas. Brilha, escurece. Depois é cor de sangue: o sorvo,
e o sôfrego
movimento externo.
3C
— blocos zoológicos, laterais, devorados
por líquenes. Vem-lhes — de gotas, botânicas
vidradas, insectos,
o vento que os embriaga, as coisas plurais
da terra — esse
fluxo e refluxo de potência cega.
Se lhes toco nos flancos, ou nas jubas, ou entre
as patas dianteiras,
sinto dos dedos ao coração a tenebrosa
pancada do sangue.
— Guardo no meu segredo aquele segredo
central,
inseparável.
3D
Os braços apertam os pulmões da estrela.
E o golpe freme a toda a altura negra. Tremo
na linha sísmica que atravessa o sono.
De ferro em brasa na cabeça,
medo e delírio,
o sombrio trabalho da beleza com as unhas fincadas
na matéria atenta
à olaria.
E súbito, apenas pelo uso elementar das coisas,
esse júbilo terrível.
3E
Avisão da terra é uma obra cega. Mas as laranjas
atrás das costas, as mais
pesadas, as mais
lentamente maduras, as laranjas que mais tempo demoram
a unir o dia à noite, que têm uma força maior em cima
das mesas, essas.
Operatórias. São laranjas ininterruptas trabalhando em imagens
as regiões ofuscantes da cabeça.
Enriquecem o ofício sentado com um incêndio
quarto a quarto da alma. Enriquecem, devastam.
— Constelação ao vento avassalando a casa.
3F
de sob uma pedra onde
de que alucinação. Entrando no sono. Devoram uma zona rude e
incandescente
não sei se da cabeça.
Uma razão da melancolia, louca
de sangue. Devoram misteriosamente artérias, neurônios, células
deste aparelho de terror e pensamento
onde se apoia a estrela
talhada. E ficam sulfurosos
da substância do sonho. Leves quando arrancam
uma rosa de entre as meninges. Mas as moléculas das imagens
fazem-nos ferozes,
radioactivos.
Minam-me o pesadelo, saem ruivos, ébrios de um ouro
insalubre. E o mundo inteiro cede
ao peso que trazem à membrana entre as coisas
simples e o pavor das coisas
que crepitam.
Estátuas irrompendo da terra, que tumulto absorvem?
Os cabelos resplandecem.
Os símbolos que celebram dão à pedra uma tensão, um
desenvolvimento, uma aura.
Em cada uma delas eu abraço uma estrela.
Abraço-a ponta a ponta das mãos
numa só massa transpirada.
Arrebata-me, calcina-me.
O chão é a potência astronómica.
No escuro do ar rebentam floras. A carne única
vibra como uma vara
de baixo
para cima.
3G
bate numa pedra com o buraco aberto à exaltação
da lua, bate onde
espumejam as ribeiras que atravessam
as embocaduras
siderais. E a madeira
levanta-se, chameja a pedra astrológica, cerra-se
a água nos cântaros de lava.
A altas atmosferas bate nas estâncias negras.
E eu durmo com o sangue luzindo na boca.
O ritmo lunar muda-me os sonhos.
O rosto queima-se.
Laranja, peso, potência.
Que se finca, se apoia, delicadeza, fria abundância.
A matéria pensa. As madeiras
incham, dão luz. Apuram tão leve açúcar,
tal golpe na língua. Espaço lunado onde a laranja
recebe soberania.
E por anéis de carne artesiana o ouro sobe à cabeça.
Aferida que a gente é: de mundo
e invenção. Laranja
assombrosamente. Doce demência, arrancada à monstruosa
inocência da terra.
3H
Têm luz própria, estes peixes orbitais
e crisântemos. Nos viveiros das bolhas, ébrios de oxigénio.
As águas atravessam as trevas.
Atravessam-nas os animais de coração translúcido entre os ombros.
Quando um abraço engrandece tudo, cabem na barragem
espádua a espádua.
As palavras com bolhas dos pulmões à boca.
ÚLTIMA CIÊNCIA 401
E no bravio espaço de nome a nome — desabrochadamente:
guelras, e os cometas florais
derramados.
Quando a loucura abala as residências vivas
entre a água e a instantânea
atmosfera
dos besouros, altos, todos, furiosos
como jóias. Quando a loucura me abala
com ar e água.
3I
enxames de bagas preciosas.
As águas encharcam a roupa até ao sono.
E a música ultramarina através dos meses em búzio.
É a experiência da morte nas imagens.
O comércio da terra: espuma que se desfolha nas superfícies
repentinas, bebedeira de floras,
o som que a agonia transmuda
em pensamento. Basta às vezes tocar na cara
às escuras, na idade
às escuras, entre espumas inundando os dias
sala a sala — basta para tantas ciências
de uma vida louca.
Como se ardeu até ficar de ouro!
E o coração do ouro era uma pálpebra
soldada
sobre elementos líricos, vivos,
terríficos.
A pupila via tudo de dentro para fora.
Essa luz feroz na alma húmida.
Tornava tão inocente o mundo: as formas
que o mundo queimara. O que era largo.
Abrasado. O que a morte já tocava
às escuras, na cara.
3J
demorado. Mergulham devagar o peso até ao coração
unido. Pétalas e pálpebras, soletrou-as
conjugalmente
o ouro. Acolhe-os a côncava casa
do sono. Rodaram como bilhas ou amonites ou ancas
pálidas — ao sopro e número
do fogo. Passou a onda abaladora.
E fecham agora os olhos sobre a deslumbrante
chaga das núpcias.
Alto e baixo, pai e filha, ouro e imagem,
transmutaram-se numa só massa exaltada.
—Acame redonda que se fecha
na sua casa madura.
3K
a estátua que sobe o dia
inclinado, que entra no escuro com os olhos brancos.
O ar ilumina-lhe a boca.
Com dedos de ouro brusco a noite fecha-lhe
os músculos. Mas abrem-nos um fluxo de seiva,
uma temperatura de química
radiosa. Porque é no centro dessa massa
territorial
que o sangue estremece e desabrocha
entre pedra e aura.
—Alenta estátua carregando a sua estrela até se atrasar
noutras pupilas deslumbradas.
3L
os animais com um clarão na boca, sou
uma ciência a sangue. O sítio ainda agora no cérebro:
jarro de vidro cheio de leite, o sal. Estes
elementos arcaicos — e as mulheres
sombrias
cantando. Sou um lugar que transborda.
Espancaram a luz atrás das costas: de onde eu vinha,
criança branca do mundo. Defronte os fogos
lavravam-me a testa.
Podia dançar sobre as áscuas. Podia ser tão silvestre
entre as folhagens do ouro, ter cornos, negra
máscara aterradora, silvar
como uma cobra.
Eu entrava na morte, era o filho da estrela
bárbara — erguia-a do meio dos diamantes.
De equinócio a solstício abraçava-me uma onda
quando subia, quando
se despenhava eu dormia dentro como um olho de água.
Depois o rosto obscuro.
Depois a seda fiada atrás do rosto.
Não espero nada.
Espero o dom apenas de uma imagem.
3M
Profundamente se levanta uma bilha vazia.
Nem o peso nem a leveza nos embriaga.
O perfume a vinho, sim, uma
concavidade do sono. Os dias maciços que se
modelaram. Ou as luzes à volta do barro
onde ficam os ciclos curvamente
ligeiros.
As bilhas ao alto, entre os ombros, contra
a cara amarga, estremecendo com o sangue dos braços
e da cara. Plenas como dias enormes,
acabados. Que são agora imagens fabulosas, mútuas
translações — o escuro em torno dos espelhos vazando de uns
para os outros a sua vida
clara.
4A
Mulheres geniais pelo excesso da seda, mães
do ouro
vagaroso.
Sopram a lua pela boca dos púcaros.
A força de labareda, as porcelanas
apuram-se, altas,
nos dedos. E elas medem girassóis pupila a pupila,
paisagens,
rasgões da água. Entre os braços arrebatam-se
cereais, fogo.
A escrita suprema de imaginar por música
as coisas: louças, comidas, roupas.
Num inebriamento de beleza composta em número.
Deitam leite nos cântaros.
E inclinam a cara, vêem no precipício
a altura voltada daquela arte da vertigem
de que são o centro. Se mungem o gado, esplendem
de pêlo e segredo, abaladas pelo bafo
do fundo: uma vaca é um jarro sumptuoso
com o rosto delas, oculto
e húmido, o rosto movido a luz.
Uma camélia soprada.
E as mãos pensando sempre.
Quem se banha nessas ribeiras fêmeas escoando-se
nas imagens fica infuso, os membros
em raio de estrela.
Está molhado pelo coração dentro.
Quando pelas suas ciências elas param na memória.
Quando se abre uma ferida. Quando a ferida
sangra.
Não toques nos objectos imediatos.
A harmonia queima.
Por mais leve que seja um bule ou uma chávena,
são loucos todos os objectos.
Uma jarra com um crisântemo transparente
tem um tremor oculto.
É terrível no escuro.
Mesmo o seu nome, só a medo o podes dizer.
A boca fica em chaga.
4B
Ninguém sabe se as luas vistas pulsam da pulsação
das águas, ou se as águas pulsam
pela força das luas
exaltadas. E o mundo, o espelho que as luas acordam e de onde
transbordam as águas, sou eu que o contemplo,
é ele que me contempla,
ou trocamo-nos? Vivemos pelo poder
das imagens. Pelo sangue e a inocência
e o ríspido esplendor e a crispação fundida e a matéria
ÚLTIMA CIÊNCIA 407
cardíaca e mútua.
— De nome em nome passam por mim os sopros.
Paisagem caiada, sangue até ao ramo das vértebras:
habitações concêntricas
de insónias, luzes, vozes, trevas, bebedeiras
— interiores,
nupciais,
atmosféricas.
Se Deus me toca no fundo da palavra.
4C
multiplicar o mundo face
mais face.
Fazer da imagem uma consciência vária.
O fogo dessa pedra cada vez mais
alerta, preciosa, convulsa, funda, abrasadora.
Trabalhas nela até às unhas.
Trabalhas na atenção aterrada, com que louvor
de obra, irrealmente. As estações da noite, os sistemas
nervosos das avenças do alto,
as plumagens.
E os dias compactos como o leite
guardado nos jarros, ou largos
das sedas estendidas. Passam
unidos todos uns aos outros
nos cotovelos. E lapidas, lapidas. Arrancas-lhe a força
eléctrica. Que a ti mesmo,
nas mãos e na cabeça, no escuro, no levantamento
do ar no sono, te faz desentranhadamente
límpido. O relâmpago
do âmago. Queima-te avista. E na cegueira fica apenas,
atroz,
o coração da jóia.
4D
salta contra o mês de maio
escrito. A mão que o escreve agora.
Até cada coisa mergulhar no seu baptismo.
Até que essa palavra se transmude em nome
e pouse, pelo sopro, no centro
de como corres cheio de luz selvagem,
como se levasses uma faixa de água
entre
o coração e o umbigo.
4E
arranca um vento às escuras.
As salas contemplam a noite com uma atenção extasiada.
Fazemos álgebra, música, astronomia,
um mapa
intuitivo do mundo. O sobressalto,
a agonia, às vezes um monstruoso júbilo,
desencadeiam
abruptamente o ritmo.
— Um dedo toca nas têmporas, mergulha tão fundo
que todo o sangue do corpo vem à boca
numa palavra.
E o vento dessa palavra é uma expansão da terra.
4F
olha as coisas completas.
O barro enlaça a água que suspira lunarmente,
que impregna o barro com a sua palpitação
aluada.
São uma coisa única
e plena: uma bilha. Quem bebe e olha
fica
misterioso, maduro.
Tudo se ilumina da altura de uma pessoa imóvel.
Quem se dessedenta delira,
vê a obra:
O que se bebe das bilhas que a lua
enaltece — água e nome
na boca.
4G
em si mesma. A morte serve-a.
Serve-se dela. Arte da melancolia e do instinto.
Quando agarro a cara, a rotação do mundo faz rodar
a olaria astronómica: uma cara
chamejante, múltipla, luxuosa.
Deus olha-a.
E a arte alta do sono fica pesada:
— Mel, o mel em brasa, a substância
potente, elementar, ardente, obscura, doce de uma doçura
fortíssima,
o mel,
arrebatada. Uma arte inextricável que,
pela doçura, enche as bolsas cruas
da carne, embriaga, queima tudo, mata,
mata.
4H
vibra com tanta força,
as unhas fulguram sobre a toalha.
Cada palavra pensa cada coisa.
Entre imagens de ouro e vento, a constelação arterial dos objectos
do mundo alarga os braços furiosamente
de abismo a abismo.
A mão convulsa manobra a vida máxima.
E então sou devorado pelos nomes
selvagens.
4I
por dedos e pensamento,
à obra? Abre uma coroa. A pedra fecha-se
na sua teia de água. Com tantos martelos secos,
com tanta idade louca, com tanta pedra
inteligente, com tanta mão aluada — o canteiro desentranha
outra mão: — A mão do nervo
da pedra, rosa
assustadora:
Que desentranha a prumo forte, em ebriedade
e inclinação de lua. Enxofre, sal, rosa
potente. — O canteiro é a sua
rosa, a sua
obra
desabrochada.
Abre a fonte no mármore, sob a forçados dedos
o vento da luz sacode a árvore.
As veias da pedra,
o cinzel faz isto, são as veias dos cavalos
— e por trás das cabeças estelares respiram rosas.
Crianças, que sinistro enlevo, como percorrem
o círculo puro da guerra, entre escudos
e lanças. E algures,
ao meio da primavera lavrada,
dança a rapariga,
desdobra-se — um sopro move-lhe a cara
imovelmente branca. Mas a noite devagar,
de fora, natural, a noite de longe,
devora joelhos e ferraduras, a espuma que a mão
arranca de dentro
— a pálpebra grande do mundo que se vê defronte
da sua obra. Devora, a noite furiosamente externa
entrando,
não só a água suave e a máquina da guerra
e a soberba ondulação do fogo
nas formas,
mas a doce e dolorosa mão que ergueu a fábula.
4J
A noite cerra-lhes os corações que sorviam
o caos
pelas aortas
de argila. Flancos contra flancos.
O tempo só existe por estes corpos selados.
E o azeite repousa. O vinho ensombra-se.
O mel amadurece com a voltagem de uma jóia
onde mergulha a lua.
Se alguém se fecha com a noite por cima.
Estou cheio desta noite, deste sono, desta riqueza
côncava,
arrefecida.
Ordena a luz o que o escuro tranca, o sonho
atado ao sono numa imagem concêntrica
radiando
dentro. A imagem diurna ordena
em filas que respiram as palavras
profundas, as crateras,
os cântaros
— profundamente.
As palavras encostadas ao papel. E o barro
suspira. O peso dessa
vida insondável: vinho,
azeite, mel — o caos que se transforma em número.
A imagem multiplica a consciência.
A jóia sazonada contra a morte.
Uma a uma, as coisas do mundo, as noites desarrumadas,
as mãos que as arrumam
entre chama e sono, as bilhas uma a uma do tesouro,
uma a uma
as palavras contra o papel profundo que suspira
— bilhas profundas na casa mais profunda
ainda.
4K
a estrela de água.
E a cobra enrola-se ao torso, mergulha
na bolsa tenra. O sopro da víbora incha a pedra
de ombro a ombro.
E a pedra formada, a víbora fria, a estrela
que funciona,
transmudam-se umas nas outras.
— Todas as canções são canções múltiplas
e únicas
de demência.
4L
Com a insónia alumiada enche
o espaço da pérola. E há o espaço da boca para encher
com a diástole salgada
da onda. O teu feroz ofício de bater as pálpebras,
a arte
plenilúnia das palavras que o pneuma
ÚLTIMA CIÊNCIA 415
arqueia com tanta força. Há espaços de animais
psíquicos, de pedrarias que a luz
exemplifica.
Quando os dedos se movem nas páginas,
quando a cara avança respirando: a palavra
cheia
do seu espaço ao vento.
4M
O coração é uma bolha,
a boca é uma bolha de oxigénio rude.
E brilha o corpo inteiro na espuma esbracejada
de um espelho. Nadador louco, vertical,
sôfrego,
só abre os olhos no abismo. Só quando fica
cego, entre varais de sal, no fundo.
Quando é uma bolha, ele todo, luzindo dos pulmões à cabeça
bêbeda. Ou entre as natações
que mão a mão tecem no bloco frígido as corolas
velocíssimas. É uma arte da síncope,
arborescente, uma tão íngreme
arte de cegar frente às pálpebras das ostras.
E os olhos defrontam as pupilas
hipnóticas, difíceis. Essa arte de lunação
das pérolas. Uma arte de olhar revolta, abrupta,
mergulhadamente.
De cegar quem as olha.
4N
o objecto brusco. É um trabalho recôndito
do nome, que o nome escrito
na lenha,
o tronco reverdeceu. E da madeira a mão levanta abismadamente
a corola.
A profissão de marceneiro, inspira-a
a embriaguez. Deus vê a talha cândida
da sua obra. Matriz, umbigo, meio da tábua,
a estrela principal, transfundem-se
em palavra. O marceneiro arranca das entranhas
a sua rosa. A pulso e bebedeira.
Arranca o olho que a olhava
espelhada. Enquanto se ligam lua e sol
debaixo
da plaina.
4O
A mão esquerda em cima desencadeia uma estrela,
em baixo a outra mão
mexe num charco branco. Feridas que abrem,
reabrem, cose-as a noite, recose-as
com linha incandescente. Amargo. O sangue nunca pára
de mão a mão salgada, entre os olhos,
nos alvéolos da boca.
O sangue que se move nas vozes magnificando
o escuro atrás das coisas,
os halos nas imagens de limalha, os espaços ásperos
que escreves
entre os meteoros. Cose-te: brilhas
nas cicatrizes. Só essa mão que mexes
ao alto e a outra mão que brancamente
trabalha
nas superfícies centrífugas. Amargo, amargo. Em sangue e exercício
de elegância bárbara. Até que sentado ao meio
negro da obra morras
de luz compacta.
Numa radiação de hélio rebentes pela sombria
violência
dos núcleos loucos da alma.
4P
Arboreamente explosiva.
Busca na constelação salina a flor
que traga na boca
de bailarino. Uma bolha árdua, estelar, à tona
do corpo e da onda.
A morte confundida fora e dentro.
Quando não há palavra que se diga e apenas uma imagem
mostre em cima
os trabalhos e os dias submarinos.
4Q
Rosas ascendem do coração trançado
das madeiras.
As caudas dos pavões como uma obra astronómica.
E o quarto alagado pelos espelhos
dentro. Ou um espaço cereal que se exalta.
Escondo a cara. Avoz fica cheia de artérias.
E eu levanto as mãos defendendo a leveza do talento
contra o terror que o arrebata. Os olhos contra
as artes do fogo.
Defendendo a minha morte contra o êxtase das imagens.
Se olhas a serpente nos olhos, sentes como a inocência
é insondável e o terror é um arrepio
lírico. Sabes tudo.
A constelação de corolas está madura contra o granito alto
nas voragens. Rosaceamente.
Atua vida entra em si mesma até ao centro.
Podes fechar os olhos, podes ouvir o que disseste
atrás das vozes
do poema.
4R
pela infiltração
alimentar do sono. Álcoois,
minérios, drogas. Curvam a luz onde se apoiam.
Autónomas
polpas de jóias quando a treva as cerca.
Irrompem do fundo das páginas, continuam se as penso
em alumiação no espaço que as exalta.
Malévola beleza acentuando uma época
fosfórica. Os dedos
que as recebem dos dedos
queimados
queimam-se. Porque tudo se calcina: sono e imagem,
dálias verdadeiras, as palavras,
as pessoas.
Essa dádiva infernal fechada na metáfora.
4S
Alua agarra-o pela raiz,
arranca-o.
Deixa um grito que embriaga,
deixa sangue na boca.
Que seja a demonia: — a arte mais forte de morrer
pela música, pela
memória.
5A
Por dentro a chuva que a incha, por fora a pedra misteriosa
que a mantém suspensa.
E a boca demoníaca do prodígio despeja-se
no caos.
Esse animal erguido ao trono de uma estrela,
que se debruça para onde
escureço. Pelos flancos construo
a criatura. Onde corre o arrepio, das espáduas
para o fundo, com força atenta. Construo
aquela massa de tetas
e unhas, pela espinha, rosas abertas das guelras,
umbigo,
mandíbulas. Até ao centro da sua
árdua talha de estrela.
Seu buraco de água na minha boca.
E construindo falo.
Sou lírico, medonho.
Consagro-a no banho baptismal de um poema.
Inauguro.
Fora e dentro inauguro o nome de que morro.
5B
os dias de espuma, as varas cor de malva
nos lugares altos
levantam o enxofre na treva.
Ei-la, a criança louca
— uma rotação turquesa, nos buracos estrelas centrífugas
com membros.
Sei agora onde me alcança o vergão de sal:
no mamilo rosa esquerda, em cima
das válvulas negras. Arranca-se o nervo ao espelho,
arranca-se a veia à palavra: não fica
o rosto, a criança não fica no abismo sonoro.
Louca sob essas varas de gelo, lufadas
redondas
onde ela se volta, a cabeça radiosamente com membros.
Os salões do mundo são atravessados por cometas drapejantes.
E explode a espuma no filme
sideral. O talento tumultuoso de uma camélia
debaixo das varas. E ao meio,
eu — inocente, inocente. Largo na testa
para a loucura e o baptismo.
Arte de redacção: ver isto,
ver a morte — dar-lhe um nome de diamante com o nervo
dentro. Aveia selvagem trespassando a acerba
massa
dos vocábulos. E nos lugares visuais do paraíso,
assinar: o demoníaco — com todas as letras
doces.
5B
os tubos violentos,
os turvos tubos de chumbo,
enche-os o ouro lírico, sensível, alquímico:
o luxo o luxo
— e só então o corpo é monstruoso.
5C
inclinação das rosas contra os dedos
iluminava em baixo
as palavras.
Abri-as até dentro onde era negro o coração
nas cápsulas. Das rosas fundas, da fundura nas palavras.
Transfigurei-as.
Na oficina fechada talhei a chaga meridiana
do que ficou aberto.
Escrevi a imagem que era a cicatriz de outra imagem.
A mão experimental transtornava-se ao serviço
escrito
das vozes. O sangue rodeava o segredo. E na sessão das rosas
dedo a dedo, isto: a fresta da carne,
a morte pela boca.
— Uma frase, uma ferida, uma vida selada.
1985, revisto em 1987.
 Português
Português
 English
English
 Español
Español