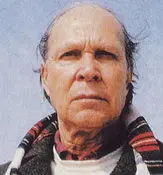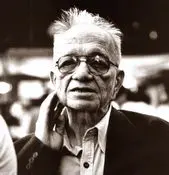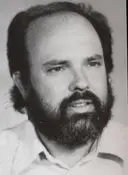Herberto Helder
Herberto Helder de Oliveira foi um poeta português, considerado por alguns o 'maior poeta português da segunda metade do século XX' e um dos mentores da Poesia Experimental Portuguesa.
1930-11-23 Funchal
2015-03-23 Cascais
718163
16
156
As Palavras 4
Durmo.
Durmo de pé atravessando quartos, as minhas mãos não dormem — talvez eu sorria estremecendo, estremecendo.
As minhas mãos saem do sono, para os lados, mexem, mexem, os pés estão acordados e levam com um sorriso o meu sono pelos espaços vivos e brancos, sem som — estou de pé estremecendo.
Depois tenho quatro patas como um perfume que partisse ou uma flor que partisse à procura do seu perfume.
Digo que tenho uma aflita quadrupedia, como um cão nu que fosse em busca da sua flor desaparecida em toda a parte, neste clima aberto à volta do clima.
As minhas patas saem do sono para saber como é o espaço exasperado do clima, andam pelos soalhos do clima — e ao alto do movimento há um sorriso em lume brando numa pessoa estremecendo.
Aprendi como é devagar — comer devagar, sorrir, dormir devagar, cagar e foder — aprendi devagar.
Entretanto, se me falarem de rosas não me falem de rosas — falem-me da espinhosa arte de ser rosa, da arte do devagar.
Mexes-te muito, digo eu, e penso: mexes-te muito pouco — é que eu sou o muito mais possível devagar, respondo, é que eu sou o sangue procurando, pelos tubos quentes, o pavor do coração.
Sou o sangue em busca de como há-de bater nas mãos e nos pés, através das galerias, como um ramo de ventania a bater no espaço da ventania.
Mexes-te pouco, é o sono que te leva, as mãos tremem, os pés apanham os passos um pouco atrás, o coração é terrível como um órgão oculto — mas a boca exposta é que é o órgão do amor.
Durmo, durmo, durmo em todas as direcções — abrem luzes como quem espanca neve, tornam claro como quem desdobra lençóis, tiram do sono como quem abre torneiras sobre as ervas espantadas.
Oh, deixa-me tu passar, digo-me eu, dá-me a superfície inteira desta noite irregular, a profundeza deste sono onde apenas se mexe uma incrível sabedoria à força de lentidão.
É isto que levo no corpo — a nudez, a nudez.
E a nudez põe o sono às costas, caminha, sabe, encontra, perde e caminha — toda exposta em seu espaço branco.
Não te importes com a água fria que atravessa a primeira imagem da tua ciência — tu abraças o amor como se abraçasses uma chaga ardente: a lepra, a loucura, a visão.
O dia começa a meter-se para dentro.
Leva consigo as casas de bruscas rosas acesas, os lençóis que tremem, as candeias com perfume.
A cor sobre as pedras, os lugares mais frios.
O pequeno espelho que o ar infiltrou de álcool, digo: o pássaro — o dia que começa a meter-se para dentro agarra-o pelas patas do voo, e leva-o consigo.
É preciso mais droga, ou amor, ou maior velocidade, para se ver que é o dia.
O movimento dos nomes, o espaço na beleza — e leva-os para dentro.
Já não sei como olhar as plumas que respiram entre as minhas duas mãos, o silêncio deitado, aberto, debaixo do meu de novo silêncio.
A luz pênsil como um girassol um pouco retirado.
A madeira latejante.
Agora não sei — o dia leva tudo para dentro.
Ouve-se então o interior mais escuro.
Aquele bater de águas giratórias.
Um eco de pancadas sonâmbulas, síncope, uma ardente digestão de coisas vivas.
Começa a meter-se para dentro — é uma paisagem tão móvel como a linha entre a maçã e o gosto.
O teu retrato parece uma colina de areia que caminha para os lados nocturnos, não é fixo e fascina — como um peixe dança pelas águas geladas.
Quando se dobra para trás, quente ainda o coração, pequena colina de areia sentada sobre si mesma como uma cabra, uma rosa — vem o dia que se mete para dentro, e leva-o consigo.
Tenho medo do teu rosto que desaparece um pouco loucamente, como se parasses para ver o outro lado do espelho.
Tremo olhando a convulsão de toda aquela seda.
Deita de fora as mãos e agarra o teu vestido de perfil, e tu olhas de lado como as pessoas lêem o sentido de um poema, e sorris a três quartos como as pessoas imaginam que são, e desapareces de costas como as pessoas apalpam a frescura das pêras — o dia agarra o teu vestido de pé, e leva-o para dentro.
O meu sono onde corre um ramo de sangue, como na europa um ramo de águas arquejantes.
O dia agarra pelos caules o ramo bem atado do meu sono que crepita — e a vigília põe-se a andar sobre as suas quatro patas, branca como um cão cheio de febre.
O dia como uma cadeira que se leva para dentro.
Durmo de pé atravessando quartos, as minhas mãos não dormem — talvez eu sorria estremecendo, estremecendo.
As minhas mãos saem do sono, para os lados, mexem, mexem, os pés estão acordados e levam com um sorriso o meu sono pelos espaços vivos e brancos, sem som — estou de pé estremecendo.
Depois tenho quatro patas como um perfume que partisse ou uma flor que partisse à procura do seu perfume.
Digo que tenho uma aflita quadrupedia, como um cão nu que fosse em busca da sua flor desaparecida em toda a parte, neste clima aberto à volta do clima.
As minhas patas saem do sono para saber como é o espaço exasperado do clima, andam pelos soalhos do clima — e ao alto do movimento há um sorriso em lume brando numa pessoa estremecendo.
Aprendi como é devagar — comer devagar, sorrir, dormir devagar, cagar e foder — aprendi devagar.
Entretanto, se me falarem de rosas não me falem de rosas — falem-me da espinhosa arte de ser rosa, da arte do devagar.
Mexes-te muito, digo eu, e penso: mexes-te muito pouco — é que eu sou o muito mais possível devagar, respondo, é que eu sou o sangue procurando, pelos tubos quentes, o pavor do coração.
Sou o sangue em busca de como há-de bater nas mãos e nos pés, através das galerias, como um ramo de ventania a bater no espaço da ventania.
Mexes-te pouco, é o sono que te leva, as mãos tremem, os pés apanham os passos um pouco atrás, o coração é terrível como um órgão oculto — mas a boca exposta é que é o órgão do amor.
Durmo, durmo, durmo em todas as direcções — abrem luzes como quem espanca neve, tornam claro como quem desdobra lençóis, tiram do sono como quem abre torneiras sobre as ervas espantadas.
Oh, deixa-me tu passar, digo-me eu, dá-me a superfície inteira desta noite irregular, a profundeza deste sono onde apenas se mexe uma incrível sabedoria à força de lentidão.
É isto que levo no corpo — a nudez, a nudez.
E a nudez põe o sono às costas, caminha, sabe, encontra, perde e caminha — toda exposta em seu espaço branco.
Não te importes com a água fria que atravessa a primeira imagem da tua ciência — tu abraças o amor como se abraçasses uma chaga ardente: a lepra, a loucura, a visão.
O dia começa a meter-se para dentro.
Leva consigo as casas de bruscas rosas acesas, os lençóis que tremem, as candeias com perfume.
A cor sobre as pedras, os lugares mais frios.
O pequeno espelho que o ar infiltrou de álcool, digo: o pássaro — o dia que começa a meter-se para dentro agarra-o pelas patas do voo, e leva-o consigo.
É preciso mais droga, ou amor, ou maior velocidade, para se ver que é o dia.
O movimento dos nomes, o espaço na beleza — e leva-os para dentro.
Já não sei como olhar as plumas que respiram entre as minhas duas mãos, o silêncio deitado, aberto, debaixo do meu de novo silêncio.
A luz pênsil como um girassol um pouco retirado.
A madeira latejante.
Agora não sei — o dia leva tudo para dentro.
Ouve-se então o interior mais escuro.
Aquele bater de águas giratórias.
Um eco de pancadas sonâmbulas, síncope, uma ardente digestão de coisas vivas.
Começa a meter-se para dentro — é uma paisagem tão móvel como a linha entre a maçã e o gosto.
O teu retrato parece uma colina de areia que caminha para os lados nocturnos, não é fixo e fascina — como um peixe dança pelas águas geladas.
Quando se dobra para trás, quente ainda o coração, pequena colina de areia sentada sobre si mesma como uma cabra, uma rosa — vem o dia que se mete para dentro, e leva-o consigo.
Tenho medo do teu rosto que desaparece um pouco loucamente, como se parasses para ver o outro lado do espelho.
Tremo olhando a convulsão de toda aquela seda.
Deita de fora as mãos e agarra o teu vestido de perfil, e tu olhas de lado como as pessoas lêem o sentido de um poema, e sorris a três quartos como as pessoas imaginam que são, e desapareces de costas como as pessoas apalpam a frescura das pêras — o dia agarra o teu vestido de pé, e leva-o para dentro.
O meu sono onde corre um ramo de sangue, como na europa um ramo de águas arquejantes.
O dia agarra pelos caules o ramo bem atado do meu sono que crepita — e a vigília põe-se a andar sobre as suas quatro patas, branca como um cão cheio de febre.
O dia como uma cadeira que se leva para dentro.
955
0
Mais como isto
Ver também
 Escritas.org
Escritas.org